Ex-secretária de direitos humanos de Temer revela tensões com ministros

Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil
O cenário não era nada favorável aos direitos humanos. A presidente Dilma Rousseff acabara de sofrer um impeachment com manifestações machistas publicamente proferidas dentro da Câmara dos Deputados, sem constrangimentos; ato contínuo, o presidente então interino, Michel Temer, armou uma composição ministerial sem mulheres e sem negros, apenas com homens brancos; logo em seguida, anunciou que a Secretaria de Direitos Humanos perderia status de ministério, passando a responder ao Ministério da Justiça e Cidadania, naquele momento comandado pelo ministro Alexandre de Moraes (PSDB-SP), que tem mais apreço pelo tema da segurança pública, do que pelos direitos das minorias.
Mesmo assim, na manhã de 17 de maio de 2016, ao receber um telefonema da primogênita de Temer, Luciana, a professora de Direito Constitucional e ex-procuradora do Estado de São Paulo, Flávia Piovesan, aceitou o convite para assumir a pasta dos Direitos Humanos. Desde então, testemunhou inúmeras violações e retrocessos. Os mais visíveis foram os massacres nos presídios no começo de 2017 em que morreram centenas de pessoas, a tentativa de cercear os direitos sexuais e reprodutivos abrindo a possibilidade de negar o direito ao aborto em caso de estupro, e a investida na flexibilização da fiscalização do trabalho escravo.
Um dos pontos mais sensíveis de sua gestão foi a entrada – inesperada e sem aviso – da ministra de Direitos Humanos, Luislinda Valois, que tem dado declarações pouco relacionadas com a manutenção dos direitos humanos. "Quase coloquei meu cargo à disposição, foi por um fio", revela Piovesan. "Porque me senti muito atropelada". Valois assumiu o ministério, mas perdeu a pasta das Mulheres, que passou a responder à Presidência.
Ao fazer um balanço do período em que esteve na secretaria, ela avalia que valeu à pena. Afirma que faria tudo de novo. Mas alerta para a urgente necessidade de mudança na cultura do superencarceramento. Para ela, é preciso desencarcerar, optar por outros tipos de penas – e não construir mais presídios, solução apontada para a crise carcerária de janeiro.
No começo de novembro, a secretária pediu exoneração do cargo para representar o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, indicada por Temer, que também foi seu orientador no mestrado.
Atualmente, Piovesan é professora das disciplinas de Direitos Humanos e Direito Constitucional na PUC-SP. Foi observadora das Nações Unidas e de comitês internacionais e atuou como procuradora do estado de São Paulo. É formada pela PUC-SP e fez doutorado em Harvard.
Em pouco mais de uma hora de entrevista em seu apartamento na zona oeste de São Paulo, ela fala das dificuldades que enfrentou, das críticas por ter aceitado o cargo, avalia o que poderia ter funcionado melhor e alerta para o conservadorismo crescente na América Latina, que contamina inclusive a sociedade civil. E deve ganhar força nas eleições de 2018.
UOL – Na sua avaliação, qual o impacto do processo de impeachment na democracia brasileira?
Flávia Piovesan – O impeachment, na minha avaliação, nunca é desejável, nunca é algo positivo, sempre significa uma ruptura. Mas eu, pessoalmente, como professora de Constitucional, acho que a Constituição foi cumprida. Muitos me criticaram, outros até romperam com a minha pessoa, mas tudo bem, é o que eu acredito. A Constituição é a vontade do povo, tem legitimidade e prevê essa possibilidade excepcional, que não é boa e nunca vai ser. Mas eu vejo que o impeachment tem embasamento constitucional, que doi porque é uma ruptura. Lamento. O país já estava polarizado, o impeachment aguçou essa polarização.
Como o Brasil pós impechment tem sido visto nos encontros internacionais sobre direitos humanos?
Alternativas não democráticas ganham suporte no mundo. No fundo a gente vive hoje num contexto Trump, Brexit, Alternative für Deutschland (ultra direita) na Alemanha, e a tendência na América Latina é a mesma. A região está oscilando entre direita e ultra direita. Falta um centro. Grupos religiosos estão cada vez mais empoderados. O que mais me doi como uma defensora dos direitos humanos há 20 anos é ver toda a nossa luta retroceder. Eu achava que não retrocederia mais. Mas agora o discurso de desmantelamento, pessoas como Bolsonaro que se colocam num palanque para devastar os direitos humanos, que é condenado por racismo, por sexismo, tem 20% das intenções de voto. Essa tendência conservadora pode ser vista até na sociedade civil. O que mais me deixou perplexa na Assembleia Geral da OEA no México, no final de junho, foi o debate com a sociedade civil. Os conservadores, que já existiam e se reservavam, agora fazem parte do discurso público que tem tido acolhida e, o que é pior, não é só autoritarismo do Estado, não, é a sociedade civil que a gente sempre teve tanta esperança. Aí, tem aqueles políticos que querem fazer disso palanque.
Nesse contexto, o Brasil retrocedeu umas cinco casas. Percebe-se que há uma crise, econômica, política, social. Que o país passa por uma crise, mas não institucional. Tem a Lava Jato, que deu certo não porque tem o [Juiz Sergio] Moro obcecado, mas porque você tem sinergia institucional que funciona: a Polícia Federal que investiga, o Ministério Público que denuncia e o juiz que julga. Se tem um desses personagens que falha, não tem operação nenhuma. O que eu senti lá fora, pelo menos na ONU e na OEA, é muito essa percepção. As instituições estão funcionando, a gente pode não gostar dos resultados. Há, no entanto, uma judicialização excessiva.
Há uma seletividade por parte da operação Lava Jato?
Não vejo assim. Tanto é que entrou PMDB, entrou PT, entrou tudo isso…
Qual a sua opinião sobre a conversa privada entre os ex-presidentes Dilma e Lula, que foi vazada por Moro?
Nesse ponto eu acho censurável. Mas no geral, se você avaliar o número de decisões reformadas, é ínfimo, ele não age sozinho, ele se move com base no princípio da inércia, só age se provocado. O pessoal da Lava Jato é acelerado, engajado. Estamos passando por um período muito difícil, mas acredito na mudança, creio que passaremos por uma limpeza ética ou por uma melhoria.
Por que a senhora aceitou participar de um governo sem mulheres e sem negros? Não eram indícios de que a pasta dos direitos humanos não teria a atenção necessária?
Quando entrei, disse que estava aqui pela causa, para deter retrocessos. Fiz o meu melhor. Realmente, esse vazio me incomodava. Como feminista, defendo o empoderamento das mulheres. Justamente por não ter mulher achei que tinha que aceitar, que eu podia cumprir um papel ali. Entrei no momento mais difícil, mais turbulento, e nunca tive um dia de paz. Claro que eu preferiria e torço para que haja cada vez mais mulheres com voz e vez, e representação na política. É fundamental. Por isso me senti no dever cívico de aceitar o convite, foi civismo mesmo, um grande sacrifício. Mas valeu. Eu faria tudo de novo. Foi um período difícil, desafiador, aprendi muito.
Como era a sua relação com o ex-ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes?
Por incrível que pareça, Alexandre, que foi tão criticado, sempre teve muito respeito a minha pessoa e me deu carta branca. Ele ficava muito mais vendo o MJ da segurança, que é o que ele domina, e me delegou carta branca. Com ele foi muito fácil, a ministra [de Direitos Humanos, Luislinda Valois] é mais difícil, ela é mais concentradora.
Como foi essa mudança na secretaria? A senhora foi avisada da entrada da ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois?
Não, isso foi muito ruim, foi muito difícil, eu quase coloquei meu cargo à disposição, foi por um fio. Porque me senti muito atropelada, a minha equipe fez um apelo para que eu ficasse porque a gente estava fazendo um trabalho bonito. Mas foi um atropelo, eu tive uma discussão com o presidente para também externar que eu estava muito descontente porque eu não me achei respeitada no processo, ele se desculpou, disse que foi tudo muito atropelado mesmo. Eu sofri, foram dias ruins. Mas recuei, respirei e continuei porque tinha um monte de projeto em curso.
A relação continuou difícil com a ministra?
Com a ministra nunca foi fácil, vou ser sincera. Eu respeito a ministra. Ela me tratava muito bem quando era secretária. Quando se tornou ministra, foi muito difícil, o perfil dela é centralizador, ela vem do judiciário, tudo dela tem que ser 'desembargadora' em primeiro lugar, que é uma carreira que pensa no imperativo, não tem essa experiência do coletivo. Ela era muito centralizadora, não delegava e o timming de uma gestão pública é muito diferente de uma gestão do judiciário. Mantivemos uma relação de respeito, de cordialidade, mas devo dizer que não foi fácil. É incrível dizer, mas com o Alexandre era muito mais fácil.
Em janeiro, quando eclodiram os massacres nos presídios, o ministro Alexandre de Moraes fazia um discurso contrário ao seu. Era como se vocês não tivessem conversado. Ele defendia, por exemplo, que a solução seria construir mais presídios. A senhora acredita nisso?
Eu não. Tenho total convicção de que boa parte do problema é a cultura do encarceramento. Há abuso no uso da pena privativa de liberdade. Aí é aquele círculo que se retroalimenta, você incha pela cultura do encarceramento, aplica a pena privativa de liberdade, abarrota as cadeias, com a superlotação se inviabiliza qualquer possibilidade de ressocialização, ressocialização zero você vai alimentar a reincidência e vai inchar o sistema de novo e isso vai continuar num ciclo.
Existe saída para a crise do sistema carcerário?
A gente não tem um diagnóstico preciso e isso é dramático. O que aprendemos é que unidades menores são mais controláveis, tudo que dá certo em termos de ressocialização vem de unidades menores, não dá para ter 3 mil pessoas. É um problema dramático, há muita hipocrisia porque se alimenta essa cultura e a gente vai jogando e vai perpetuando uma política falida. Essa é uma política que a gente tinha que ter a seriedade de enfrentar com mais coragem, ficamos perpetuando há décadas uma política que acaba causando violações de direitos, não permite a ressocialização, em regra, e no fundo a gente está vivendo esse ciclo que não se rompe. Construir mais presídios é enxugar gelo. Eu acho que a gente tinha que chacoalhar mesmo, romper com essa política. Fazer um pacto, um plano de desencarceramento que envolva articulações intragovernamentais, interinstitucionais, federativas e com a sociedade civil. Não adianta hoje o Executivo lançar esse plano. Você tem que combinar com o Judiciário, articular com o Ministério Público, com a Defensoria. Eu gosto da palavra 'pacto', força-tarefa, articular ações e instituições. É muito importante.
A atual Lei de Drogas (11.343/06), da maneira como se estabeleceu, é um dos maiores responsáveis pelo superencarceramento. Concorda com essa política como está hoje?
Nós temos que rever essa política. A Lei de Drogas foi um total fracasso. Sobretudo em relação às mulheres presas: 80% está encarcerada em razão do tráfico. Muitas eram primárias. Tem que se revisitar essa política de combate às drogas porque lota as cadeias, enriquece os traficantes e não resolve.
Como foi a sua última conversa com o presidente Temer ao deixar Brasília na semana passada?
Foi uma conversa de despedida, agradecendo pela oportunidade. Não o conheço da política, ele foi meu orientador na PUC-SP, em 1994, em Direito Constitucional, eu fui assistente dele na graduação e na pós. Foi ele quem me deu posse na Procuradoria. O Temer que eu conheço é quem foi meu procurador geral do Estado. A política nunca foi a minha. O presidente resguardou a minha independência. Eu levava uns puxões de orelha…
Quais foram as tensões que surgiram dentro do governo em relação aos seus posicionamentos?
Comecei com a bancada religiosa, quando dei declarações sobre direitos reprodutivos e sexuais. Aí veio a bancada da bala, porque eu defendi arduamente o 'não' à redução da maioridade penal. Depois foi a bancada do boi, dessa vez com relação ao trabalho escravo, era a última que faltava. Também tive tensões com o Ministério da Defesa em dois pontos: porque eu entendia que era fundamental que o Brasil cumprisse a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund [Guerrilha do Araguaia, em que houve tortura de Estado]; E também em relação à lamentável aprovação da lei que expande a jurisdição militar para julgar crimes praticados por militares em casos civis. E, mais recentemente, com o Ministério do Trabalho, por conta da flexibilização da fiscalização do trabalho escravo.
Qual a sua posição sobre a presença das forças armadas nas favelas do Rio de Janeiro?
Acho muito temerário porque as forças armadas não são vocacionadas para isso, a missão constitucional não é essa. Há uma grande militarização, uma expansão da jurisdição militar, aqui e na América Latina, algo que se vislumbra com grande preocupação.
Olhando para esses meses à frente da Secretaria de Direitos Humanos, a senhora se arrepende de algo?
Eu não me arrependo. Faria tudo de novo e me dedicaria do jeito que me dediquei. Dei a minha cota, que outros venham e que possam cooperar e contribuir. Saio tranquila, mesmo com minhas brigas e meus enfrentamentos.





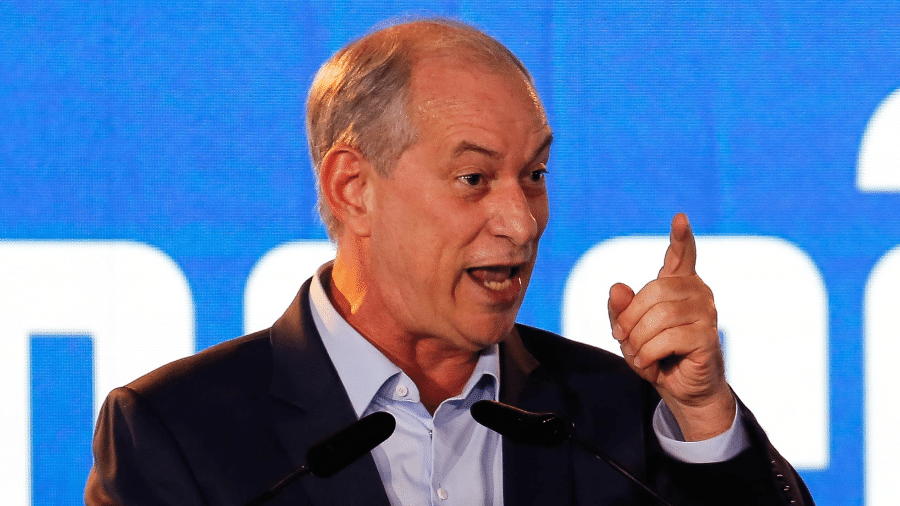









ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.