Miguel e a pedagogia do racismo

Miguel em seu aniversário – Foto: reprodução/Facebook
Por Matheus Gato e Maria Carolina Trevisan*
Longe da mãe, Miguel, ainda pequeno, não sabe que não pode se expressar naquele espaço. Não sabe que não há direitos ali. Que ele é uma extensão do corpo de sua mãe e também pertence, à sua maneira infantil, ao mundo do trabalho. A insistência de Miguel em ir atrás da mãe, que levava o cachorro da patroa para passear, feriu a etiqueta daquelas relações. Ele não sabe se portar. Não aprendeu o lugar de negro. E nem terá tempo.
Miguel cometeu uma infração: atrapalhou a manicure da patroa. Perturbou a distinção tácita entre quem fala e quem deve calar. Mas a criança não desiste de sua voz. Não sabe exatamente com quem está falando. Não aprendeu o seu lugar. Ele é pequeno.
Veja também
- Quem cala é cúmplice: o que racismo nos EUA e atos anti-STF têm em comum
- Caso João Pedro: coronavírus e letalidade policial ameaçam população negra
- "Apavorado": com o risco da Covid, presos enviam cartas de amor e despedida
Sarí Corte Real abandonou o menino no elevador de um prédio de mais de 40 andares. As imagens das câmeras do edifício parecem acentuar ainda mais as diferenças entre aquela mulher branca e o menino negro. A patroa simplesmente aperta o botão que leva aos andares mais altos, vira as costas e sela seu fim. Miguel não sabia que sua infração era tão grave. Ele era pequeno. Tinha apenas 5 anos de idade.
"Eu cuidei dos três filhos dela. Esperava que tivesse 15 minutos de paciência com o meu", afirmou Mirtes Renata Santana de Souza, que trabalhava havia quatro anos na casa de Sarí e Sergio Corte Real, prefeito de Tamandaré, município próximo a Recife (PE). A mãe de Mirtes também era trabalhadora doméstica no apartamento do casal. Pessoas íntimas mas tão desiguais entre si que até mesmo a maior ou menor paciência com o cotidiano da vida aparece marcada pela cor e origem social. Mirtes cuidava dos filhos de Sarí como se fossem dela.
No momento em que o Brasil registra mais de uma morte por minuto abatida pela Covid-19, a família de Mirtes não teve o direito de se proteger, apesar de o prefeito ter sido contaminado com o novo coronavírus. Ele mesmo postou em seu Facebook um vídeo em que declara ter testado positivo e conta sobre os primeiros sintomas em 17 de abril. O vídeo já não está mais no ar. Torna tudo mais grave ainda.
A despeito de todos os riscos, Mirtes precisava do emprego e a creche está fechada devido à pandemia. As obrigações de trabalho, cuidado e deferência impostas pela família Corte Real tinham como regra o desprezo pela vida de Mirtes e sua gente.
Miguel não sabia como aceder a esse fato elementar de sua realidade. Ele era pequeno. Não reconhecia com toda a nitidez sua posição social nem a diferença racial. Ele ainda dava os seus primeiros passos nesse aprendizado, cheio de silêncio e ordem, destino das crianças negras. O escritor afro-americano James Baldwin, ativista dos direitos civis, descreve esse aprendizado nas páginas 40 e 41 de seu livro "Da próxima vez, o fogo":
"Antes que a criança negra tenha percebido essa diferença, e bem antes de tê-la compreendido, já começa a reagir contra ela, a sentir-se por ela dominada. Todos os esforços dos pais no intuito de prepará-la a um destino contra o qual eles não podem protegê-la acabam por determiná-la secretamente, no medo, para que comece a esperar, sem o saber, seu castigo misterioso e inexorável. Ela deve ser sensata, não apenas para agradar os pais e evitar a punição por parte deles; por detrás de sua autoridade, existe outra, que se faz presente de modo anônimo e impessoal, infinitamente mais difícil de satisfazer e terrivelmente cruel. Tudo isso vai se insinuando na consciência da criança por meio do tom de voz dos pais, quando lhe fazem uma advertência, lhe dão castigo ou prova de amor; na repentina e incontrolável nota de pavor que ecoa da voz do pai ou da mãe quando a criança extravasa um limite qualquer. Embora não saiba ao certo em que consiste o limite e não possua explicação a respeito, o que já é por si só assustador, ainda mais apavorante é o medo que ouve ecoar na voz dos pais."
Uma pedagogia estranha e corriqueira em que o ensinamento sobre as coisas da vida e os perigos do mundo exige a internalização da subordinação racial. Tudo muito pouco falado, mas presente nos castigos e repreensões contra o "atrevimento" e a falta de "humildade" por vezes acompanhada de uma frase lapidar: "Isso é para você aprender. É melhor aprender em casa do que na rua".
No limite não explicado também vigoram todas aquelas obsessões das famílias negras com os deslizes e detalhes mais banais do cotidiano, como entrar correndo em um shopping. Ou outras preocupações de ordem quase moral com a limpeza e o estado das roupas, com a disciplina do corpo e dos gestos, o saber entrar e sair dos lugares, sobretudo lojas e mercados, o culto ao valor dos documentos – a beleza e dignidade de uma carteira de trabalho – e o medo de pegar-se sem eles na rua com a sensação de ser ninguém. Ensinamento feito em poucas palavras. "A vida não é assim", e tudo mais que Cartola tentou exprimir numa canção. "Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho."
Mas esse é, sobretudo, um aprendizado do corpo. A escritora Conceição Evaristo, que trabalhou como empregada doméstica na infância e adolescência, contou a sua experiência por ocasião das declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre as domésticas. "A dona fazia o meu prato depois que ela comia e nunca perguntava se o que ela me oferecia bastava. Aos domingos, a filha e o filho com as crianças iam almoçar com ela. Creio que todo mundo adorava frango ao molho pardo, eu também. Invariavelmente esse era o cardápio domingueiro. A comida ia toda para a mesa, enquanto eu ardia de fome na cozinha. E, quando as travessas voltavam (atendendo ao chamado, eu ia até a mesa buscar o final do repasto), para mim ficava sempre a moela da galinha boiando em uma poça rasa de molho pardo, no fundo da tigela. Em dias de maior sensibilidade, eu era acometida por todas as dores do mundo. E entre lágrimas comia o que me era permitido." Ela tinha 14 ou 15 anos. O velho conselho sempre guardou sua razão: é melhor aprender em casa do que na rua.
Mas Miguel ainda era muito pequeno para compreender todo esse ensinamento. Não sabia que aos 5 anos de idade, por quinze minutos que fossem, ele mal poderia reclamar. Na sua idade, identificava-se com as figuras masculinas de força, autoridade e sucesso. Desejava ser policial ou jogador de futebol. E, dono de uma ousadia sem tamanho, escalou no parapeito do nono andar. Não teve o que aprender.
* Matheus Gato é professor do departamento de sociologia da Unicamp e membro do Núcleo Afro – Raça, Gênero e Justiça Racial do Cebrap. É autor do livro "O Massacre dos Libertos: sobre raça e República no Brasil"
Maria Carolina Trevisan é jornalista, colunista do UOL e membro do Núcleo Afro – Raça, Gênero e Justiça Racial do Cebrap





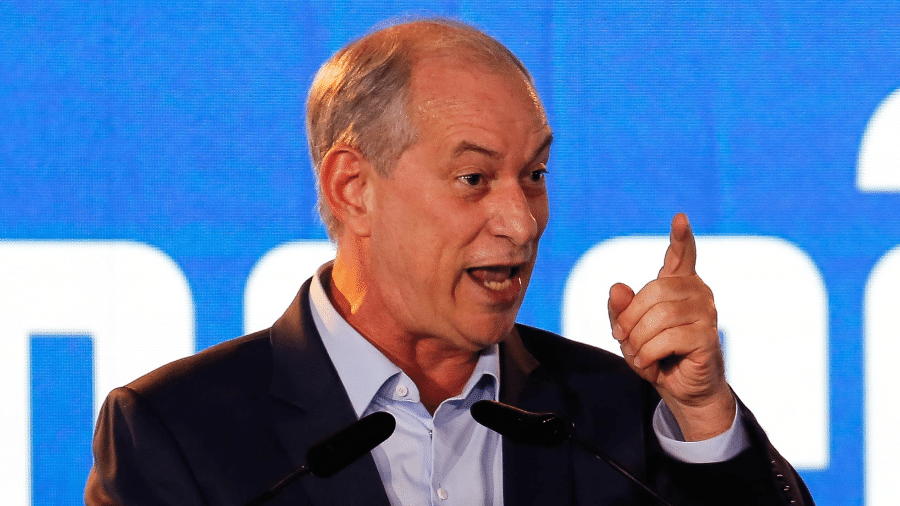









ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.