Política de segurança do Rio tem sido contada em cadáveres, diz pesquisador
O sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói, na manhã desta terça (20), terminou com a morte do sequestrador, alvejado por um atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE) do Rio. Difícil avaliar se tecnicamente essa seria a única saída. O ideal seria preservar a vida de todos. Com os olhares voltados para a ponte, o governador Wilson Witzel (PSC) desceu de um helicóptero e dançou, comemorando o desfecho da operação, como se estivesse em um estádio de futebol na hora do gol. Depois disse que falou com a família do sequestrador, identificado como Willian Augusto da Silva, de 20 anos. O governador do Rio escutou que Willian tinha transtornos mentais. Disse também que a mãe do sequestrador morto pela polícia está muito abalada. Impossível não imaginar como ela se sentiu ao ver a festa de Witzel.
Um dos reféns contou à imprensa que o sequestrador não foi violento, que não ameaçou ninguém. Afirmou que ele parecia desequilibrado e que acompanhou a própria ação pela televisão através de um celular. Ao final, se descobriu que o tomador de reféns portava uma arma de brinquedo, um taser (arma não letal utilizada pelas polícias e pelo Exército) e gasolina (que o sequestrador disse que não usaria no ônibus), o que pode significar que Willian pretendia tirar a própria vida. Nesse sentido, não é estranho que tenha escolhido a ponte Rio-Niterói, um dos locais onde frequentemente ocorrem suicídios.
Veja também
- Pátria armada, Brasil: Bolsonaro, Moro e Witzel expõem pessoas à letalidade
- 80 tiros: Bolsonaro, Moro e Witzel vendem mortes como preço para segurança
- Rio tem histórico de sequestros; em 2000, 2 morreram no caso do ônibus 174
Ao mesmo tempo em que acontecia o sequestro do ônibus, a Polícia Civil do estado promovia mais uma de suas operações sobre favelas: um helicóptero blindado (apelidado de "caveirão aéreo") jogava bombas contra a Cidade de Deus, na zona oeste da capital fluminense, que tem cerca de 36 mil habitantes. Em breve, mais três desses helicópteros blindados, adquiridos durante a intervenção federal, devem chegar ao Rio.
As duas situações mostram que a política de segurança pública do Rio se baseia em matar, não em prevenir a violência. "A política de segurança pública do Rio de Janeiro tem sido contada em cadáveres", afirma o pesquisador Pablo Nunes, coordenador de pesquisa da rede de Observatórios de Segurança Pública do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), vinculado à Universidade Cândido Mendes, e integrante do Grupo de Estudo em Pesquisa e Prevenção de Suicídio. "O que mais me choca é como a população tem comemorado esse tipo de índice. Deveríamos ao máximo evitar as mortes sempre." A letalidade policial bateu recorde no estado. Mais de 880 pessoas foram mortas pela polícia fluminense em seis meses.
O discurso de que eram "bandidos" não vale em um país que não tem pena de morte. Porque empregar a violência letal causa a morte de inocentes. Na semana passada, essa política vitimou seis jovens no Rio. Não há indícios de recuo pelo governo Witzel. Seu secretário de governo, Cleiton Rodrigues, admitiu que esse tipo de ação seguirá acontecendo. "O governador e o governo do estado lamentam profundamente todas essas mortes. Essas e todas as outras que possam acontecer", disse Rodrigues, se desculpando antecipadamente pelas vidas que serão abatidas no futuro.
"Me preocupa muito essa naturalização da morte também por parte da população", alerta Nunes. "É algo que nos choca e nos coloca um grande desafio: é essa a sociedade que a gente quer? Bater recordes de assassinatos? Sabemos muito bem que o aumento da letalidade e da letalidade policial não impacta de maneira relevante no combate à criminalidade. Essa política pública vitima, mata, viola direitos e não reduz a criminalidade de maneira significativa. Estamos vivendo um pesadelo."
A angústia dos policiais submetidos à política do abate

Ônibus sequestrado na Ponte Rio-Niterói – Imagem: reprodução TV Globo
A obrigação de abater um suspeito é estressante também para os policiais. Segundo Nunes, nas entrevistas com esses profissionais para a pesquisa de adoecimento mental, todos disseram que as mortes marcam suas vidas de forma muito profunda. "A retirada da vida de um ser humano faz uma marca na psiquê do policial. O adoecimento mental entre policiais em batalhões em que há muita letalidade é altíssimo. Essas marcas vão mostrar seus efeitos no futuro e vão se acumular por toda a vida", explica. De acordo com Nunes, em 2018, 15 policiais tiveram manifestações suicidas (entre tentativas e consumações) no Rio.
Ninguém quer sair de casa com a missão de matar. Até porque essa política coloca os próprios policiais em mais riscos. Mas autoridades incentivam essas ações. O presidente Jair Bolsonaro, enquanto ocorria o sequestro nesta manhã, lembrou o sequestro do ônibus 174 cujo desfecho levou à morte a refém Geisa Firmo Gonçalves, de 20 anos, e o sequestrador, Sandro Barbosa do Nascimento, de 21 anos. "Depois esse vagabundo morreu no camburão", afirmou Bolsonaro. Ele foi morto por policiais depois do fim do sequestro, na viatura.
Sandro era fruto do abandono e da violência. Não tinha nenhuma estrutura familiar, a mulher que ele considerava mãe foi assassinada quando ele tinha oito anos, o pai abandonou a mãe biológica ainda na gravidez e ele passou a viver nas ruas. Tornou-se dependente de cocaína e foi sobrevivente da Chacina da Candelária aos 15 anos, quando a violência policial matou oito meninos. Sandro estava ali em busca de comida. Foi a miséria e a convivência com a violência que o colocaram naquela situação. No Brasil, o Estado é responsável por acolher todas as crianças e adolescentes e colocá-los em sua rede de proteção.
Sandro foi enterrado como indigente mais de um mês depois de sua morte. Apenas duas pessoas foram ao funeral. Os policiais que o estrangularam foram absolvidos pela Justiça. Na época, a juíza Maria Angélica Guedes lamentou a falta de punição. "Incomoda aceitarmos que o Sandro merecia morrer. É a barbárie", disse.
O que faltou ao sequestrador do ônibus da ponte Rio-Niterói? Certamente, celebrar sua morte não levará o Brasil por um caminho de paz. Quantos Sandros vamos matar? Em nome de quê?





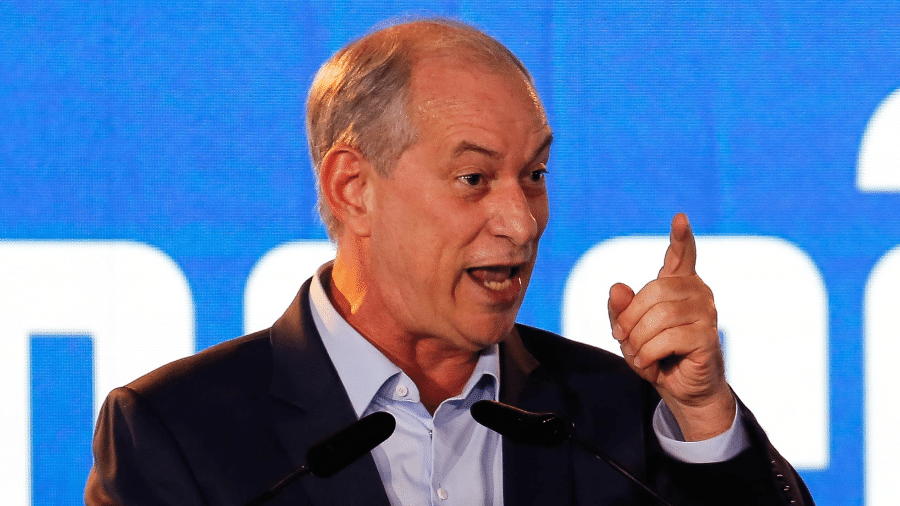









ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.